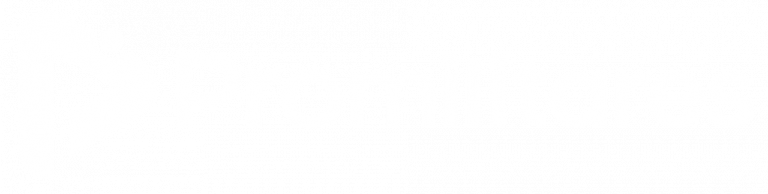TROVADORISMO
INTRODUÇÃO
- O ideal cavalheiresco
A Literatura medieval expressa vivamente o espírito cavalheiresco, mescla valores aristocráticos e religiosos, como se pode notar nas novelas de cavalaria e na poesia trovadoresca. As novelas de cavalaria deram vazão, principalmente, ao espírito épico cavalheiresco.
Trata-se de composições narradas em prosa que celebram feitos de armas de heróis exemplares, como os cavaleiros da Távola Redonda do rei Artur, enaltecendo suas virtudes guerreiras e morais, de acordo com o ideal ascético do cristianismo.
A poesia trovadoresca provençal, por sua vez, foi a expressão mais alta do lirismo europeu medievo, anterior a Dante e Petrarca.
- O nascimento da poesia portuguesa
Na época em que Portugal formou-se como nação independente, falava-se o galego-português, uma língua muito próxima do português, mas ainda fortemente mesclada a outra variante, o galego. Nesse momento, foram sendo registradas várias manifestações líricas de origens diversas.
A tradição oral é a origem mais provável desse tipo de literatura, que se manifestou de formas diferentes e lançou mão de procedimentos próprios. Assim, é possível reconhecer, na lírica medieval portuguesa, tipos diferentes de composição. A essas composições chamamos cantigas, e as dividimos em:
- cantigas de amor;
- cantigas de amigo;
- cantigas de escárnio;
- cantigas de maldizer.
CANTIGAS DE AMOR
O Trovadorismo é uma manifestação cultural que começa a florescer em Portugal depois de intenso período de guerras para garantir a posse da terra. Os poemas eram recitados ao som de instrumentos como a lira, a cítara e a harpa.
Na nova nação portuguesa, as manifestações sociais incluíam a convivência ao redor dos castelos, e, dentro dos palácios, os trovadores cantavam suas cantigas para deleite da nobreza. Por essa razão, esse tipo de composição é conhecida como poesia palaciana.
Os trovadores eram, em geral, pessoas de origem nobre, com uma bagagem cultural considerável, e lidavam de forma livre com questões políticas. A origem nobre de sua poesia reflete-se no vocabulário rebuscado de suas composições e na temática altamente subjetiva de seus versos.
D. Dinis, um dos reis de Portugal, pertencente à primeira dinastia, foi um trovador conhecido e bastante produtivo. São suas as mais conhecidas cantigas de amor portuguesas.
As cantigas de amor possuem características estilísticas que as tornam singulares no cenário lírico da Idade Média. Acompanhe o exemplo para entender melhor.
Quer’eu em maneira de proençal
fazer agora un cantar d’amor,
e querrei muit’i loar mia senhor
a que prez nen fremusura non fal,
nen bondade; e mais vos direi en:
tanto a fez Deus comprida de bem
que mais que todas las do mundo val.
Ca mia senhor quiso Deus fazer tal,
quando a faz, que a fez sabedor
de todo ben e de mui gran valor,
e con todo est’é mui comunal
ali u deve; er deu-lhi bon sen,
e des i non lhi fez pouco de ben,
quando non quis que lh’outra foss’igual.
Ca en mia senhor nunca Deus pôs mal,
mais pôs i prez e beldad’e loor
e falar mui ben, e riir melhor
que outra molher; des i é leal
muit’, e por esto non sei oj’eu quen
possa compridamente no seu ben
falar, ca non á, tra-lo seu ben, al.
Características das cantigas de amor:
- o eu poético é sempre o homem, que se dirige à sua senhora ou fala dela;
- a identidade da amada é mantida em segredo – que, nas cantigas, denomina-se senhal;
- o tema das cantigas de amor é o amor impossível;
- a mulher é cortejada e reverenciada ao extremo;
- a reverência e a cortesia são discretas, de modo a não expor seus sentimentos, conforme as regras do amor cortês;
- o poeta sofre profundamente por seu amor, o qual não pode se realizar (“coita de amor”);
- o destino do poeta, em face de seu amor impossível e implacável, é enlouquecer ou morrer.
A mais importante característica das cantigas de amor, contudo, é o fato de elas fazerem um culto ao próprio amor, não à mulher. Em todos os versos, a cortesia amorosa dirigida à dama é uma forma de amar o amor.
CANTIGAS DE AMIGO
As cantigas de amigo eram recitadas, ou cantadas, pelo jogral, e diferem das cantigas de amor pelos seguintes elementos:
- a voz lírica é feminina, ou seja, o jogral canta a cantiga representando uma mulher;
- o eu poético é uma donzela, de classe popular, que canta a saudade do amigo, que é, na verdade, o namorado;
- o poema tem como tema central a experiência amorosa, que pode se concretizar;
- o cenário é sempre o campo, a ribeira, ou seja, o cenário fora do palácio.
O fim da era medieval
No fim da Idade Média, a Europa passava por um momento de muitas transformações, tanto na política quanto na cultura e na religião. O regime feudal estava em franca decadência, verificava-se a queda da divisão entre senhores e escravos. As modificações econômicas e sociais foram dando lugar ao crescimento das cidades e à constituição de uma nova classe em ascensão.
As calamidades que abalaram a Europa, no final do século XIV, causaram mudanças significativas e permanentes na sociedade: as guerras pelo domínio das terras e pela conquista de territórios, a Peste Negra e a Reforma Protestante, que institucionalizou as mudanças na fé católica, representaram fatores determinantes na modificação da forma de pensar.
Assim, a evolução cultural e social iniciada na Idade Média originou um movimento cultural baseado na busca pelo conhecimento e na imitação dos modelos clássicos. Uma nova concepção de ser humano, encarado em sua integralidade e reconhecido por sua capacidade de pensar e criar, modelou a sociedade e a cultura, começando a fase histórica hoje conhecida como o Renascimento.
O HUMANISMO
Humanismo é o nome de um movimento intelectual, de uma doutrina filosófica e de uma postura artística que representa a transição entre a cultura europeia medieval e a do Renascimento. Teve início na Itália, entre o fim do século XIII e o início do XIV, no “outono da Idade Média”.
PANORAMA HISTÓRICO
A revolução cultural do Humanismo assenta-se sobre dois princípios fundamentais: a volta às origens do cristianismo e a revalorização do legado cultural da Antiguidade clássica.
A proposta de retorno ao cristianismo original continha certo repúdio ao comportamento da Igreja romana. Repugnava aos humanistas o autoritarismo da Igreja medieval e seus desvios em relação às fontes da doutrina cristã, que são os Evangelhos. Essa atitude de rebeldia não pretendia romper com a Igreja, mas regenerá-la. No entanto, desencadeou um processo de crítica que levou à contestação de dogmas intocáveis.
A difusão dos estudos clássicos (ou seja, o estudo da língua, Literatura, Filosofia, Religião e História da Antiguidade greco-romana), na Baixa Idade Média, despertou o interesse pela investigação da natureza e o gosto pela especulação racional.
Os humanistas trouxeram de novo uma atitude de liberdade intelectual. Essa independência levou a conquistas que abalaram o teocentrismo. A valorização do homem e da natureza está entre as mais expressivas dessas conquistas.
Considera-se marco inicial do Humanismo português a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de Guarda-Mor da Torre do Tombo (1418), ou sua promoção a Cronista-Mor do Reino, em 1434.
Portugal não conheceu a descentralização política do feudalismo, da forma como esse sistema se verificou no resto da Europa. Desde a fundação do reino, por D. Afonso Henriques, no século XII, o poder esteve centralizado no monarca. Com a dinastia de Avis, fundada por D. João I, em 1385, a monarquia fortaleceu-se cada vez mais, até que o absolutismo se configurou como forma de governo no reinado de D. João II (1481-1495).
A época do Humanismo em Portugal (1418-1527), em grande medida, confunde-se com o período histórico da dinastia de Avis (1385-1580), quando o país viveu profundas transformações. Além da mencionada implantação do absolutismo, deu-se a expansão marítima, que transformou Portugal em um grande e rico império. Em função disso, Lisboa tornou-se uma das cidades mais importantes da Europa, um polo de atração de capital, inteligências e aventureiros de toda parte.
São três as manifestações literárias no Humanismo lusitano: a crônica histórica de Ferrão Lopes; a poesia do Cancioneiro geral de Garcia de Resende e o teatro de Gil Vicente. Devido à sua contribuição cultural histórica, a seguir daremos destaque ao último artista mencionado.
Na segunda época medieval, transição entre a literatura trovadoresca e o Renascimento, a produção literária conviveu com o surgimento do teatro vicentino, ou seja, com textos dramáticos escritos por Gil Vicente, poeta e dramaturgo português.
O TEATRO VICENTINO
Gil Vicente foi um importante autor para a literatura em língua portuguesa, cujas obras influenciam a produção teatral até hoje. Ele produziu diversas peças de teatro, conferindo originalidade e provocando o riso não só da Corte, mas também do povo. A obra de Gil Vicente não segue o formato do teatro clássico, rompendo com a lei das três unidades de tempo, ação e espaço, mas se espalha pelo teatro medieval, em que era comum encenarem-se pequenas peças, por ocasião das comemorações religiosas.
A obra de Gil Vicente, sobretudo no que se refere ao debate de ideias e de valores da época, pode ser considerada anunciadora de uma nova época, ou seja, os ideais e o modo de pensar medievais começam a ser substituídos pelas crenças renascentistas. Uma vez que valores vigentes são questionados, ainda que sob forte percepção moralista, nota-se a intenção de corrigir os costumes por meio do riso. O teatro de sátira social vicentino aborda qualquer classe, fidalguia ou clero, de forma contundente, expondo as feridas sociais de seu tempo; ao passo que as obras de temática religiosa contrabalançam essa postura.
A simplicidade da linguagem, aliada à poesia que perpassa os textos, bem como os temas abordados, imortalizam a obra de Gil Vicente, tornando-o grande exemplo do teatro em língua portuguesa.
O CLASSICISMO
Classicismo é o nome da escola artística do Renascimento. Suas ideias e realizações são fruto dos estudos greco-romanos do Humanismo. Iniciado na Itália, no século XV, o Classicismo difundiu-se pela Europa ao longo do XVI.
PANORAMA HISTÓRICO
Assim como a ciência, a arte do Renascimento voltou-se decididamente para a natureza. Entendia-se que a obra de arte deveria imitar a natureza. Os renascentistas encontraram em Aristóteles esse conceito, que definia a arte como mimesis (imitação da natureza; imitação da realidade; imitação da vida).
O Classicismo do Renascimento é o culto e a prática dos valores artísticos presentes nos autores da Antiguidade greco-romana, considerados de classe (de alta qualidade), daí o nome do movimento.
Os clássicos do Renascimento estudaram e imitaram os clássicos da Antiguidade, voltando à prática de formas e gêneros literários antigos, como a epopeia, a ode, a elegia, a tragédia, a comédia etc. Assimilaram, também, a ideia grega de que arte é expressão de Beleza.
Serenidade, sobriedade e racionalismo são três características do Classicismo, também decorrentes da sabedoria grega, que recomendava: nada em excesso. A razão deveria predominar sobre a emoção.
O Renascimento e o Classicismo do século XVI revitalizaram a herança greco-romana, combinando-a com o legado do cristianismo, de maneira a dar a estes novos significados e perspectivas. Na prática literária, a mescla de motivos pagãos e motivos cristãos é chamada fusionismo.
O CLASSICISMO EM PORTUGAL: LUÍS DE CAMÕES
O maior poeta da língua portuguesa, aquele que lhe deu sua feição mais elevada. Quanto à poesia lírica, Camões teve, em vida, publicadas quatro composições: dois sonetos, uma ode e uma elegia, sendo um dos sonetos de autoria duvidosa. Toda a produção lírica restante é de publicação póstuma.
Os Lusíadas é um canto de louvor à glória do povo português, verdadeiro protagonista do poema, como sugere o próprio título, que significa “os lusitanos”, isto é, “os portugueses”.
Quando Camões escreveu sua obra, Portugal estava no auge de seu império, conquistado na aventura heroica de sua gente, pioneira no desbravamento do mar desconhecido. Os Lusíadas narram o momento máximo dessa aventura, a viagem em que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, em 1498, marco da expansão renascentista do mundo ocidental. Por isso, o interesse do poema não é exclusivamente nacionalista. Sem dúvida, o tom patriótico que exalta a superioridade lusitana é muito forte, mas os portugueses representam a cultura ocidental renascentista, o que dá ao poema um valor universal.