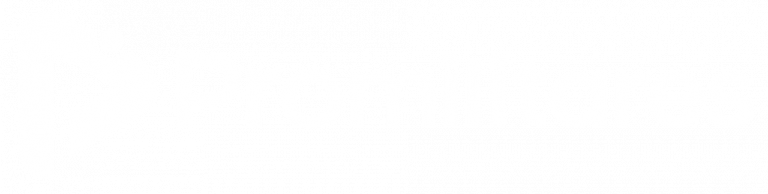Praticamente qualquer produto do cotidiano passa pelo processo de melhoria técnica, tais como automóveis, computadores, relógios, bens domésticos etc. Basta uma superficial comparação entre os bens de consumo duráveis, por exemplo, do início do século XX com seus similares do século XXI para constatarmos as diferenças qualitativas.
No final do século XIX, uma nova Revolução Industrial, a segunda, ocorria no mundo, sobretudo na Europa. Uma comparação superficial entre as duas primeiras revoluções industriais basta para comprovarmos que a melhoria no modo de produção de riqueza sofreu um impressionante salto. A Primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, em fins do século XVIII, promovendo o desenvolvimento do capitalismo industrial de livre concorrência. Comparativamente, poderíamos afirmar que a Segunda Revolução Industrial ocorreu quase que simultaneamente na Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Ela assistiu, ainda, à emergência do capitalismo financeiro, isto é, a diversificação da atividade capitalista pelas grandes empresas, que passavam a diversificar suas atividades nas áreas bancária e industrial.
Ademais, a Segunda Revolução Industrial substituiu a livre concorrência pelo denominado capitalismo monopolista, isto é, aquele em que as grandes empresas passam a controlar o mercado, evitando a participação das pequenas empresas. O termo capitalismo monopolista, entretanto, está sujeito à crítica, pois, invariavelmente, um grupo de empresas dividia o mercado de tal modo a evitar a entrada de novos competidores. A expressão, portanto, poderia ser substituída por capitalismo de oligopólio. Desta nova modalidade de capitalismo surgiram os trustes, os cartéis, holdings e a ilegal prática do dumping, cujo objetivo era retirar concorrentes do mercado.
A vanguarda europeia da Segunda Revolução Industrial coube especialmente aos alemães, vitoriosos no seu processo de unificação aduaneira (Zollverein) e política (política de “sangue e ferro”). A industrialização do II Reich, entretanto, provocou o imediato crescimento do movimento operário, considerado pernicioso para a coesão social Junker. Em 1873, a Alemanha sofreu com uma depressão econômica, fenômeno de superprodução que provocaria uma crise de desemprego devido à competição com a indústria inglesa e com os produtos agrícolas dos Estados Unidos. As grandes empresas alemãs, BMW, Krupp e Bayer, começaram a procurar a tutela do Estado como forma de obter proteção contra a concorrência estrangeira.
Os operários alemães eram considerados por Karl Marx – pai do socialismo científico e profeta da revolução proletária – a provável vanguarda da revolução socialista europeia. Eles, contudo, seriam cooptados pelo Partido Social-Democrata alemão, a principal agremiação de massa da Europa. A Social-Democracia seria responsável por uma das maiores crises do movimento operário no século XIX, juntamente com a traumática cisão de socialistas e anarquistas na Associação Internacional dos Trabalhadores ou, simplesmente, I Internacional (1864-76). Entre 1889 e 1914, durante a II Internacional, a social-democracia alemã, de tendência nacionalista e moderada, entraria em acirrado debate com os bolcheviques russos, que renunciavam ao nacionalismo em favor de um discurso internacionalista de classe e revolucionário.
Após a vitória conservadora nas eleições de 1878, Bismarck aprovou no Reichstag, o Parlamento alemão, leis antissocialistas, que baniam as atividades de imprensa e políticas deste grupo. Em 1889, o Reichtag, por recomendação do primeiro-ministro, aprovou um conjunto de leis de bem-estar social, dentre as quais figuravam a assistência médica, o seguro por acidente ou invalidez e a aposentadoria. Essa iniciativa foi pioneira na história ocidental e teria parâmetros somente no século XX, quando o presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt (1933-45) anunciaria o New Deal. Bismarck percebia a necessidade de conceder benefícios para a classe operária como forma de cooptá-la junto ao Estado. A ação do chanceler de ferro empurrou a social-democracia definitivamente para a moderação.
Nos Estados Unidos, a Revolução Industrial do século XIX foi uma consequência imediata da vitória da União na Guerra de Secessão (1861-65), que garantiu a imposição de um modelo abolicionista, industrial e protecionista. Com a marcha para o oeste rumo ao Pacífico e a expansão para o sul até o rio Grande, a agricultura passou por um processo de crescimento sem precedentes que, aparentemente, era inesgotável. As descobertas de jazidas de carvão e ferro fomentaram a emergência de uma poderosa indústria siderúrgica, enquanto o petróleo garantiu uma certa vanguarda na nascente produção energética. A energia elétrica era outro meio de produção de riqueza que nascia naquela época. Os caminhos do futuro, contudo, ainda eram traçados fundamentalmente sobre linhas férreas. O mercado interno era um poderoso atrativo para a industrialização, já que até o século XX não existia qualquer legislação de controle de imigração. Ao contrário disso, o governo mantinha o país de portas abertas para os europeus que quisessem “fazer a América”, ou seja, investir no país, desbravar o Oeste ou se converter em necessária mão de obra para a indústria americana.
A iniciativa privada, como as grandes corporações United States Steel Corportaion, Standart Oil, J. P. Morgan Co., Rockfeller Co. e Carnegie Company deviam muito ao Estado, pois o protecionismo e os subsídios foram fundamentais para alimentar o crescimento industrial norte-americano. Em 1890, os Estados Unidos já produziam mais ferro e aço que a Inglaterra, nação pioneira da Revolução Industrial. Dez anos mais tarde, na virada do século, os norte-americanos barravam a produção inglesa e alemã conjuntamente.
A partir da década de 1880, entretanto, vários estados americanos iniciaram verdadeiras cruzadas contra os conglomerados privados do país, acusados de sufocar a concorrência e eliminar os benefícios que o liberalismo poderia suscitar. A organização econômica, porém, era matéria federal, frustrando, portanto, as tentativas de limitar a ação destas grandes empresas. Na década de 1870, os fazendeiros do sul, por exemplo, queixavam-se do alto valor do frete cobrado pelas grandes empresas ferroviárias e do péssimo serviço prestado. Em 1877, surgiria a Interstate Commerce Act, primeira tentativa federal de regular a questão ferroviária no país. Na década de 1890, o Congresso aprovou o Sherman Antitrust Act, que restringia as ações das gigantes corporações americanas. As empresas, entretanto, recorriam e, invariavelmente, ganhavam suas causas nos tribunais americanos.
A terceira nação de vanguarda no processo da II Revolução Industrial foi o Japão. Caso inédito de país que sofreu ação imperialista e depois se tornou imperialista, o Japão passou por um processo de abertura econômica, ocidentalização e centralização política para poder acompanhar as grandes nações europeias e os Estados Unidos no desenvolvimento industrial contemporâneo.
Em 1868, chegou ao fim a Idade Média japonesa, isto é, o período de fragmentação do poder público daquela nação. O país sofria com uma divisão política na qual o poder legítimo cabia ao imperador, mas era exercido de fato pelo xogum, espécie de líder militar. O xogum contava com uma intrincada rede de apoios militares locais, consubstanciados nos chamados daimios, o que seria o equivalente aos nobres, cavaleiros ou warlords da Europa medieval. Os daimios tinham a fidelidade dos samurais, guerreiros especializados que lutavam com habilidade e com um rígido código de honra, no qual o suicídio ritualístico, sepuku ou harakiri, era empregado com frequência. De qualquer modo, o poder encontrava-se dividido, contribuindo para um clima de instabilidade política que impedia qualquer projeto de desenvolvimento econômico ou expansionismo militar.
Em 8 de julho de 1853, o comandante norte-americano Matthew C. Perry forçou a abertura econômica do Japão através de uma ação militar naval que ficaria conhecida pelo nome de gunboats policy ou “política das canhoneiras”. A partir deste processo de abertura forçada, o país passaria por um processo convencionalmente denominado de ocidentalização, através do qual os japoneses promoveriam a centralização do Estado Nacional, elemento indispensável para impulsionar as transformações econômicas e industriais. Em 1868, chegou ao fim a chamada “Era Tokugawa”, marcando a superação do Estado fragmentado, que representava um obstáculo ao processo de modernização econômica. Uma série de reformas ocorridas entre 1868 e 1912, período denominado de “Era Meiji”, contribuiu para concretizar o projeto de transformar o Japão na maior nação do Oriente e, posteriormente, capaz de competir com qualquer potência ocidental.
As reformas japonesas, no campo de administração pública, educação, sociedade e economia, foram possíveis porque o Estado guiou o desenvolvimento econômico. Os samurais, por exemplo, passariam por um processo de burocratização, isto é, seriam incorporados às forças armadas e estariam proibidos de servirem a senhores locais. O militarismo e o autoritarismo seriam marcas registradas do novo Japão. Ademais, assim como na Alemanha e nos Estados Unidos, as reformas viriam acompanhadas do surgimento de grandes corporações, denominadas de zaibatsus, ou “trustes familiares”, como, por exemplo, Mitsubishi, Honda e Yamaha. O grande desafio dos japoneses, entretanto, seria conjugar crescimento econômico com falta de recursos naturais, um dos maiores problemas do país. A resposta para esta equação estaria em uma das práticas mais comuns do final do século XIX: o imperialismo.
Enquanto a África sofria uma ação imperialista europeia através da Conferência de Berlim, e a China era partilhada pelas principais potências imperialistas do mundo, a América Latina se tornou uma área quase exclusiva da ação norte-americana. Desde o anúncio da Doutrina Monroe de 1823, os Estados Unidos demonstraram a intenção de não tolerar interferência europeia em um continente que consideravam de seu domínio exclusivo.
A ação imperialista norte-americana, contudo, começou somente em 1898, quando os Estados Unidos derrotaram a Espanha na chamada “Guerra Hispano-Americana”. O motivo alegado do conflito foi a suposta sabotagem contra o navio americano Maine, ancorado no porto de Havana. Após o ocorrido, contudo, ficava evidente que o presidente McKinley tinha muito mais em mente quando obteve a declaração de guerra contra os espanhóis. Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam deixaram de ser colônias espanholas para se converterem em áreas de influência de Washington. Cuba, que receberia sua independência em 1901, foi obrigada a aceitar os termos da emenda constitucional do senador americano Orville Platt, que concedia ao governo americano o direito de intervir em Cuba e construir uma base militar em Guantánamo. O fato de estes países não terem sido incorporados à União é facilmente explicável se observarmos que a existência de população hispânica e negra nestes territórios não receberia uma entusiástica acolhida pelos congressistas norte-americanos. O escritor Mark Twain, autor de Patriotas e Traidores, foi uma das únicas vozes na América a se levantar contra esta ação imperialista.
O presidente McKinley, contudo, sofreria um atentado de um militante anarquista e não terminaria seu mandato para assistir à expansão da influência americana no hemisfério. Ironicamente, o vice-presidente, Theodore Roosevelt, seria responsável pelo maior símbolo do imperialismo norte-americano na História, o célebre Big Stick (ou “grande porrete”). Em um discurso, Roosevelt advertia que era uma obrigação das nações civilizadas manter a ordem no mundo. No continente americano, contudo, só existiria uma nação civilizada, os Estados Unidos, que estariam, mesmo que contra sua vontade, obrigados a exercer uma espécie de poder de polícia hemisférica. Era o corolário de Roosevelt à Doutrina Monroe.
Roosevelt aplicou o Big Stick contra o governo de Bogotá, ao ter sua proposta de criação de um canal interoceânico, que ligasse o Pacífico ao Atlântico, rejeitada pela Colômbia. O governo americano incitou um levante nacionalista, liderado pelos bombeiros da província do Panamá, e enviou a Marinha de guerra para evitar uma reação colombiana. Roosevelt declararia posteriormente: “Eu tomei o canal”. Os sucessores de Roosevelt, William Taft e Woodrow Wilson, batizariam suas políticas externas, respectivamente, de Diplomacia dos Dólares e Diplomacia Missionária, as quais nada mais eram que novas formas sutis e combinadas de manutenção do Big Stick.