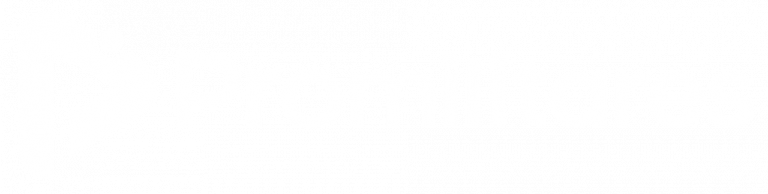CONSIDERAÇÕES SOBRA A CONCLUSÃO
É muito comum que muitos candidatos cheguem cansados ao final da redação e, consequentemente, acabam redigindo o parágrafo de qualquer jeito. Isso pode representar a perda de pontos consideráveis em seu texto, meu aluno. Não se esqueça de que a conclusão é a última coisa a ser lida pelo examinador em sua redação, gerando a impressão final antes do lançamento da nota. Portanto, é de suma relevância caprichar nesse desfecho, de maneira a impressionar o corretor no último momento antes de ele atribuir uma nota ao seu texto.
Entretanto, muitos candidatos não sabem o que escrever na conclusão, imaginando não haver mais nada a dizer. Todavia, esse parágrafo apresenta uma estrutura bem simples, que tem por função básica reafirmar a tese que já foi apresentada na introdução. O caminho a ser percorrido é bem nítido: apresenta-se uma tese no início do texto, que é esclarecida e respaldada nos parágrafos de desenvolvimento, para ser finalmente reafirmada ao final da redação. Vamos começar o estudo de algumas técnicas para a formulação de parágrafos conclusivos.
TIPOS DE RACIOCÍNIO
A construção de um parágrafo conclusivo pode se apoiar em três métodos: o método dedutivo, que parte do geral para o particular; o método indutivo, que parte do particular para o geral e o método dialético, que consiste na extração de uma conclusão a partir de argumentos contrários.
MÉTODO DEDUTIVO
Esse método parte do geral para o particular, caracterizando, de maneira geral, o encadeamento lógico de ideias que partem de premissas (argumentos) gerais e chegam a uma conclusão particular. Quando se pretende comprovar determinada tese para um caso específico, usa-se normalmente esse método, pautando a argumentação em fatos considerados verdades universais para certa gama de fenômenos.
A estrutura básica da dedução pode ser formulada como um silogismo, construção famosa em aulas de filosofia e raciocínio lógico matemático. O silogismo é uma constante que se repete no método dedutivo, constituído de três proposições: uma premissa geral, uma premissa particular e uma conclusão. Vejamos, meu aluno:
Todo homem é mortal. (Premissa geral)
Sócrates é homem. (Premissa particular)
Logo, Sócrates é mortal. (Conclusão)
A partir de uma ideia generalista, formulou-se uma conclusão particular. Isso é bem comum em estruturas dissertativas e pode ser aplicado sempre que o candidato julgar conveniente. Vale a pena destacar que, em geral, nos parágrafos conclusivos, a premissa particular fica subentendida, ou seja, o examinador terá de perceber a relação coerente entre a premissa geral e a conclusão sozinho.
Se você, meu aluno, optar por deixar essa premissa oculta no texto, tome muito cuidado, pois o leitor (examinador) poderá julgar o texto incoerente se não dispuser da informação intermediária que une a premissa maior à conclusão. No exemplo acima do Sócrates, não haveria dificuldade alguma, pois está bem fácil depreender qual é a premissa particular pelo contexto; entretanto, algumas situações podem ocorrer, deixando o texto incoerente para o leitor pela falta do conhecimento específico sobre algo. Vejamos:
“Todos os macacos são considerados primatas bem inteligentes com uma percepção muito avançada. Os alouattas, portanto, possuem um sistema de comunicação sonora com vocalizações bem peculiares que podem ser ouvidas a quilômetros de distância.”
Se o leitor (examinador) não souber que os alouattas são macacos, pode achar que o texto ficou incoerente ou que não houve uma transição adequada entre essas ideias pouco conectadas. Dessa forma, imaginando que o examinador não seja capaz de recuperar o termo particular sozinho, é melhor explicitá-lo no texto.
Para que que o silogismo seja verdadeiro e válido, meu aluno, ele precisa satisfazer a algumas condições:
1ª. Apresentar três termos, cada um usado duas vezes. Esses termos não podem ser ambíguos.
2ª. Apresentar premissas verdadeiras.
3ª. Ser válido, ou seja, apresentar uma conclusão lógica derivada das premissas.
Os erros de dedução são denominados falácias quando:
1º. Uma premissa inicial, que deveria ser comprovada, passa a ser aceita como verdadeira, sem provas.
Todos os políticos são corruptos.
Fulano é político.
Logo, Fulano é corrupto.
2º. Ocorre uma generalização excessiva, que produz uma conclusão a partir de uma evidência insuficiente.
“Rafael lê muito e, por isso, deve ser considerado um bom aluno.”
3º. Ocorre uma relação de causa/efeito defeituosa.
“A televisão é causa de violência entre os jovens e, por isso, as leis devem cuidar de impor certos limites à sua programação.”
4º. É feita uma simplificação exagerada, que leva a um caminho mais fácil do que a procura trabalhosa de uma resposta mais adequada.
“Se todos os brasileiros acreditassem em Deus, a situação do país estaria melhor.”
Para ficar mais claro como uma conclusão de um texto dissertativo pode se valer do método dedutivo, vejamos um exemplo:
Trânsito nas cidades grandes: o preço do tempo perdido
Quem não passou pelo pesadelo de sair de casa para um compromisso com hora marcada e ver o cronograma estourar por causa do trânsito? Assim se perderam viagens, reuniões de negócios, provas na escola e outras oportunidades. Resultado: prejuízo na certa. Seja ele financeiro ou mesmo moral — afinal, como fica a cara de quem chega atrasado ao trabalho? Mas será que existe um mecanismo que leve ao cálculo das perdas provocadas por estes preciosos minutos gastos dentro de um automóvel — ou transporte coletivo — numa avenida de uma grande cidade brasileira? Quanto custa um engarrafamento? As respostas para estas perguntas, infelizmente, ninguém sabe ao certo.
Estudo do Denatran, em parceria com o Ipea, sobre “Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras” revela que — além da perda de tempo — a retenção no trânsito provoca ainda o aumento do custo de operação de cada veículo — combustível e o desgaste de peças. Os congestionamentos trazem danos também para os governos. Cidades e estados gastam fortunas com esquemas de tráfego, engenheiros, equipamentos e guardas de trânsito.
Quando motivado por acidente, o engarrafamento fica ainda mais caro, pois envolve bombeiros, ambulâncias, médicos, hospitais, internações, medicamentos, lucros cessantes e, eventualmente, custos fúnebres, além das perdas familiares. Nos Estados Unidos, as autoridades incluíram, no custo financeiro do engarrafamento, o estresse emocional provocado em suas 75 maiores cidades. Conta final: U$ 70 bilhões/ano. Isso sem falar nos custos ambientais — é consenso na comunidade científica que a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, pelos automóveis é uma das principais causas de emissões de carbono, um dos causadores do aquecimento global.
A maior cidade do Brasil tem também os maiores engarrafamentos. A frota da Grande São Paulo atingiu, em 2008, a marca de seis milhões de veículos. Este número só aumenta: são vendidos cerca de 600 carros por dia — segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O consultor de tráfego Horácio Figueira só vê uma solução: “É preciso priorizar o transporte coletivo. Caso contrário, as cidades vão parar”, alerta. Enquanto 60% da população do país utilizam o transporte público, apenas 47% dos paulistanos seguem o mesmo exemplo. A falta de conforto e os itinerários limitados dos ônibus levaram 30% dos usuários a optar pelas vans, realimentando os quilométricos congestionamentos da cidade.
Nesse texto, é possível perceber que o autor parte de uma ideia geral, ampla, que diz respeito ao trânsito caótico nas cidades grandes até chegar a uma conclusão sobre a cidade de São Paulo, ou seja, o autor aplicou a um caso específico a regra geral que foi falada sobre o trânsito caótico das cidades grandes. É interessante notar também, meu aluno, que o autor não fez questão de explicitar no texto a premissa particular de que São Paulo é uma grande cidade, provavelmente pelo fato de o público leitor ser capaz de inferir corretamente essa informação.
MÉTODO INDUTIVO
O método indutivo apresenta um raciocínio lógico que parte de premissas mais particulares para chegar a uma conclusão generalista. Partimos sempre de dados apreendidos por nossos sentidos ou tomamos conhecimento dos dados por meio de um testemunho autorizado. Ocorre que esse método apresenta falhas que impedem que cheguemos a concussões definitivas – o chão molhado que vimos pode estar assim em razão da chuva, mas de um cano que estourou. Assim, uma das primeiras providências que devemos adotar e tentar reunir o maior número possível de fatos para que a conclusão seja mais segura, mas sem garantia absoluta.
Um rapaz como carne de porco hoje, e sente dor na barriga. Come carne de porco no dia seguinte, e sente de novo dor na barriga. Repetindo novamente a experiência, o resultado continua sendo o mesmo. Indutivamente, o rapaz conclui que senti dor na barriga sempre que come carne de porco.
Essa lógica pode ser aplicada em textos dissertativos, desde que tomemos os devidos cuidados para não apresentar falhas que impeçam as conclusões de serem coerentes. Para ficar mais claro como uma conclusão de um texto dissertativo pode se valer do método indutivo, vejamos um exemplo:
O que é… decisão
No mundo corporativo, há algo vagamente conhecido como “processo decisório”, que são aqueles insondáveis critérios adotados pela alta direção da empresa para chegar ____ decisões que o funcionário não consegue entender. Tudo começa com a própria origem da palavra “decisão”, que se formou ____ partir do verbo latino caedere (cortar). Dependendo do prefixo que se utiliza, a palavra assume um significado diferente: “incisão” é cortar dentro, “rescisão” é cortar de novo, “concisão” é o que já foi cortado, e assim por diante. E dis caedere, de onde veio “decisão” significa “cortar fora”. Decidir é, portanto, extirpar de uma situação tudo o que está atrapalhando e ficar com o que interessa.
E, por falar em cortar, todo mundo já deve ter ouvido a célebre história do não menos célebre rei Salomão, mas permitam-me recontá-la, transportando os acontecimentos para uma empresa moderna. Então, está um dia o rei Salomão em seu palácio quando duas mulheres são introduzidas na sala do trono. Aos berros e puxões de cabelo, as duas disputam a maternidade de uma criança recém-nascida. Ambas possuem argumentos sólidos: testemunhos da gravidez recente, depoimentos das parteiras, certidões de nascimento. Mas, obviamente, uma das duas está mentindo: havia perdido o seu bebê e, para compensar a dor, surrupiara o filho da outra.
Então Salomão, em sua sabedoria, chama um guarda, manda-o cortar a criança ao meio e dar metade para cada uma das reclamantes. Diante da catástrofe iminente, a verdadeira mãe suplica: “Não! Se for assim, ó meu Senhor, dê a criança inteira viva ____ outra!”, enquanto a falsa mãe faz aquela cada de “tudo bem, corta aí”. Pronto. Salomão manda entregar o bebê ____ mãe em pânico, e a história se encerra com essa salomônica demonstração de conhecimento da natureza humana.
Mas isso aconteceu antigamente. Se fosse hoje, com certeza as duas mulheres optariam pela primeira alternativa (porque ambas teriam feito um curso de Tomada de Decisões). Aí é que entram os processos decisórios dos salomões corporativos. Um gerente Salomão perguntaria à mãe putativa A: “Se eu lhe der esse menino, ó mulher, o que dele esperas no futuro?” E ela diria? “Quero que ele cresça com liberdade, que aprenda a cantar com os pássaros e que possa viver 100 anos de felicidade”. E a mesma pergunta seria feita à mãe putativa B, que de pronto responderia: “Que o menino cresça forte e obediente e que possa um dia, por Vossa glória e pela glória de Vosso reino, morrer no campo de batalha”. Então, sem piscar, o gerente Salomão ordenaria que o bebê fosse entregue à mãe putativa B.
Por quê? Porque na salomônica lógica das empresas, a decisão dificilmente favorece o funcionário que tem o argumento mais racional, mais sensato, mais justo ou mais humano. A balança sempre pende para os putativos que trazem mais benefícios para o sistema.
Max Gehringer, Revista Você S. A. Ano 5. Edição 43. São Paulo, Abril, jan./2002. P. 106.
Podemos perceber que, ao longo do texto, o autor parte de experiências particulares, uma baseada na história de Salomão e outra hipotética. A partir disso, o autor apresenta uma generalização, ou seja, a partir de experiências particulares, ele chega a uma conclusão genérica relacionada à atuação empresarial para fechar o texto.
MÉTODO DIALÉTICO
Esse método é baseado na criação de uma conclusão a partir de argumentos contrários. É comum a citação, em parágrafos distintos, de pontos positivos e negativos associados à tese. Dessa contrariedade, extrai-se uma conclusão que contemple ambas as perspectivas. É necessário, portanto, muito cuidado para não cair em contradição ao longo do texto, acarretando uma incoerência. Para ficar mais claro como uma conclusão de um texto dissertativo pode se valer do método dialético, vejamos um exemplo:
Preconceito e exclusão
Os preconceitos linguísticos no discurso de quem vê nos estrangeirismos uma ameaça têm aspectos comuns a todo tipo de posição purista, mas têm também matizes próprios. Tomando a escrita como essência da linguagem, e tendo diante de si o português, língua de cultura que dispõe hoje de uma norma escrita desenvolvida ao longo de vários séculos, [o purista] quer acreditar que os empréstimos de hoje são mais volumosos ou mais poderosos do que em outros tempos, em que a língua teria sido mais pura. (…)
Ao tomar-se a norma escrita, é fácil esquecer que quase tudo que hoje ali está foi inicialmente estrangeiro. Por outro lado, é fácil ver nos empréstimos novos, com escrita ainda não padronizada, algo que ainda não é nosso. Com um pouco menos de preconceito, é só esperar para que esses elementos se sedimentem na língua, caso permaneçam, e que sejam padronizados na escrita, como a panqueca. Afinal, nem tudo termina em pizza!
Na visão alarmista de que os estrangeirismos representam um ataque à língua, está pressuposta a noção de que existiria uma língua pura, nossa, isenta de contaminação estrangeira. Não há. Pressuposta também está a crença de que os empréstimos poderiam manter intacto o seu caráter estrangeiro, de modo que somente quem conhecesse a língua original poderia compreendê-los. Conforme esse raciocínio, o estrangeirismo ameaça a unidade nacional porque emperra a compreensão de quem não conhece a língua estrangeira. (…)
O raciocínio é o de que o cidadão que usa estrangeirismos – ao convidar para uma happy hour, por exemplo – estaria excluindo quem não entende inglês, sendo que aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender inglês, como a vastíssima maioria da população brasileira, estariam assim excluídos do convite. Expandindo o processo, por analogia, para outras tantas situações de maior consequência, o uso de estrangeirismos seria um meio linguístico de exclusão social. A instituição financeira banco que oferece home banking estaria excluindo quem não sabe inglês, e a loja que oferece seus produtos numa sale com 25% off estaria fazendo o mesmo.
O equívoco desse raciocínio linguisticamente preconceituoso não está em dizer que esse pode ser um processo de exclusão. O equívoco está em não ver que usamos a linguagem, com ou sem estrangeirismos, o tempo todo, para demarcarmos quem é de dentro ou de fora do nosso círculo de interlocução, de dentro ou de fora dos grupos sociais aos quais queremos nos associar ou dos quais queremos nos diferenciar. (…)
(GARCEZ, Pedro M. e ZILLES, Ana Maria S. In: FARACO, Carlos Alberto (org.).
“Estrangeirismos – guerras em torno da língua”. São Paulo: Parábola, 2001.)
Percebe-se, meu aluno, que a conclusão desse texto apresenta uma síntese dialética da abordagem negativa e da positiva sobre o posicionamento dos puristas, reconhecendo que eles estão certos ao identificarem no uso do estrangeirismo uma forma de segregação, porém cometem equívocos quando não percebem que todo uso da linguagem, em todas as suas formas, é discriminatório.
ESTRUTURA E FINALIDADE GERAL DA CONCLUSÃO
Do ponto de vista da estrutura, meu aluno, é importante iniciar o parágrafo conclusivo com conectores destinados a tal fim. São eles: portanto, logo, em suma, em vista disso, assim, etc.
Depois de estabelecida a conexão com o restante do texto, é preciso reafirmar a tese que foi apresentada na introdução. Cuidado para não repetir o ponto de vista já mencionado no parágrafo introdutório, a tese reafirmada tem de estabelecer uma relação com o restante do texto, sem perder o sentido da transição do último parágrafo de desenvolvimento do texto para a conclusão.
Fique atento para não introduzir novos argumentos na conclusão, pois o parágrafo conclusivo serve apenas como uma síntese daquilo que o antecede. Sendo uma dissertação argumentativa, é conveniente propor uma solução para determinado problema discutido ao longo do texto, com base nos argumentos apresentados. Entretanto, cuidado para não propor sugestões vagas, imprecisas e utópicas como “devemos nos importar mais com o próximo para um mundo melhor”. Vale a pena salientar também que devemos evitar o uso de clichês, frases prontas e ditados populares, bem como conclusões exageradamente enfáticas, repletas de interrogações ou exclamações.