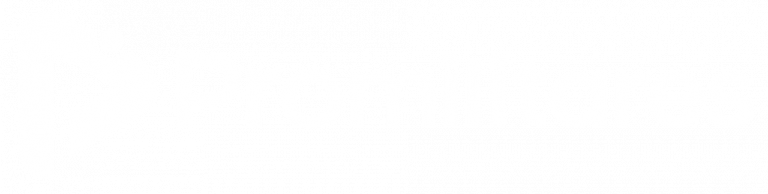A CRISE DE SUPERPRODUÇÃO E AS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DO CAFÉ
No final do século XIX, o Brasil estava ampliando seus cafezais, gerando uma defasagem comparada ao ritmo de ampliação do mercador consumidor europeu e norte-americano. Com uma oferta maior que a procura, o preço do café começou a despencar no mercado internacional, trazendo sérios riscos para os fazendeiros. A crise da superprodução estava instalada.
Entre 1901 e 1902, o Brasil havia produzido pouco mais de um milhão de sacas acima da capacidade de consumo do mercado internacional, causando uma queda de preços no valor do café. Em 1906, essa produção além da demanda do mercado saltou para quatro milhões de sacas, acarretando graves prejuízos aos cafeicultores, que decidiram exigir do governo uma atuação para evitar prejuízos maiores.
Para solucionar o problema da superprodução, os governadores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro reuniram-se junto na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, em 1906. Para evitar a queda generalizada do café, os governos estaduais envolvidos concordaram que deveriam contrair empréstimos no exterior para adquirir parte da produção que excedesse o consumo do mercado internacional, e estocasse essa produção excedente com a criação de estoques reguladores.
Esses estoques consistiam no armazenamento do café, feito pelo governo, e a liberação destas sacas somente ocorreria quando a demanda tivesse um aumento, dessa forma, regulava-se a oferta e o preço poderia se manter. Ao lado disso decidiu-se desencorajar o plantio de novos cafezais por meio da cobrança de altos impostos. Estabelecia-se assim a primeira política de valorização do café, conhecida como Convênio de Taubaté. O plano apresentado pelos cafeicultores foi adotado por Afonso Pena, presidente que assumiu o governo no ano de 1906. A adoção de tal prática foi uma medida paliativa, que ainda deixava como incerta o futuro da economia cafeeira.
Além do Convênio de Taubaté, outras medidas foram adotadas ao longo da República Velha, como:
- 1917 – No contexto da 1ª Guerra Mundial, durante a presidência de Venceslau Brás (1914-1918), o governo brasileiro adquiriu e estocou 180 mil toneladas de café (o equivalente a 3 milhões de sacas de café). A crise cafeeira foi parcialmente resolvida com o fim da guerra e o restabelecimento da economia europeia.
- 1921 – Durante a presidência de Epitácio Pessoa (1919-1922), o presidente foi pressionado pelos cafeicultores paulistas, e o governo acabou adquirindo 4,5 milhões de sacas, se tornando a terceira política de valorização do café.
- 1924 – Neste ano, os cafeicultores decidiram aplicar uma prática “permanente” da valorização do café, com a criação do Instituto do Café, em São Paulo. O instituto era destinado a controlar o comércio exportador do produto, regulando as entregas ao mercado. Na época, Brasil era responsável por 60% do mercado mundial. Por isso, o instituto era responsável por estocar o produto em quantidades crescentes, para assim liberar as sacas de café de acordo com o aumento da demanda.
Toda essa política de valorização do café realizada pelo governo brasileiro acabava incentivando o aumento do número cafeicultores, o que acarretava o fracasso das políticas de valorização superficial do produto. Como essa política de valorização dependia de empréstimos estrangeiros para a compra das sacas excedentes, com a crise do capitalismo em 1929 essa política de valorização se tornou insustentável.
O CICLO DA BORRACHA E A ANEXAÇÃO DO ACRE
A exploração comercial do látex já era realizada desde o século XVIII, porém o material não mantinha uma forma rígida ao longo do ano, pois acabava sofrendo com a variação de temperatura, estando quebradiça no inverno e pastosa no verão. Essa realidade se modificou quando Charles Goodyear, em 1844, patenteou um processo que criava uma liga da borracha imune as variações de temperatura. Com isso, o uso da borracha pode ser ampliado para outros setores, como a área médica.
No final do século XIX, com a invenção do automóvel, a borracha se tornou uma demanda mundial, pois é necessária para a fabricação de pneus até hoje. Por isso, o material extraído da região Amazônica se tornou um produto de importância na balança comercial brasileira. Em fins do século XIX, inúmeros brasileiros estavam na região amazônica para tentar obter o lucro com a extração do látex. A região era a maior reserva de seringueiras do mundo, e o Brasil passou a suprir progressivamente quase toda a demanda mundial de borracha. Por isso, a região teve um surto de desenvolvimento entre o final do século XIX e início do XX (1891-1918).
No contexto da exploração da borracha, a região amazônica correspondente ao atual estado Acre, foi incorporada ao território brasileiro, depois de uma série de negociações entre o governo boliviano e a diplomacia brasileira representada pelo barão do Rio Branco. Desde o final do século XIX havia brasileiros que atravessavam de maneira ilegal a fronteira brasileira com a Bolívia, para alcançar os seringais da região. Dessa forma, a região foi sendo ocupada por brasileiros, já que os bolivianos tinham dificuldade em acessar a região. Ao longo dos anos, as forças bolivianas e os seringueiros brasileiros entraram em diversos choques, deixando o governo brasileiro em uma situação de tensão diplomática no local.
Quando a Bolívia arrendou a exploração do Acre para Bolivian Syndicate, uma empresa que possuía capitais americanos, ingleses e franceses, o governo boliviano exigiu que os brasileiros fossem expulsos da região. Isso agravou ainda mais as tensões, e para tentar acalmar os ânimos e retirar os brasileiros, o governador do Amazonas enviou o militar Plácido de Castro para a região. Entretanto, Plácido fez um acordo com os seringueiros locais e decidiu treiná-los militarmente, o que deu início a Revolução Acreana, que teve como consequência a independência do Acre em 1903.
Sob a presidência de Rodrigues Alves, o governo brasileiro apoiou o movimento de independência dos brasileiros no Acre. Plácido de Castro adotou uma série de medidas que possibilitaram a anexação do Acre pelo Brasil, mas as forças bolivianas não estavam favoráveis em conceder este território. As tropas de Plácido de Castro começaram a se movimentar pelo território para enfrentar um destacamento do exército boliviano que estava tentado recuperar a região. Antes que novos confrontos pudessem ocorrer, a diplomacia brasileira, com a atuação do Barão de Rio branco, conseguiu assinar as premissas para a formalização do Tratado de Petrópolis de 1903.
Dentre os principais pontos previstos pelo Tratado, destacam-se:
- o governo brasileiro indenizou a Bolívia com 2 milhões de libras pela perda do território e 110 mil libras a Bolivian Syndicate pelos prejuízos à empresa.
- governo brasileiro se comprometeu com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré;
- houve a concessão de pequenas faixas de terra na região de Mato Grosso para a Bolívia.
Tais medidas foram importantes para dar acesso a Bolívia ao oceano Atlântico, e dar uma solução as questões de disputas territoriais do Brasil na região norte. Com isso, a exploração de borracha pode prosseguir na região, garantindo um aumento das exportações brasileiras nos anos seguintes.
No ano de 1910, o Brasil exportava 38 milhões de toneladas de borracha, correspondendo por 40% das exportações nacionais, produto que era superado somente pelo café no período, com 110 mil pessoas trabalhando na região do Vale Amazônico para a exploração de látex. Devido a esse surto da borracha, houve uma grande expansão urbana nas cidades de Belém e Manaus, com iluminação pública, bondes elétricos, serviços de telefonia e construções suntuosas como o palácio do governo e o Teatro Amazonas.

Palacete Bolonha, em Belém, concluído em 1915. A exploração do Látex na selva amazônica permitiu o desenvolvimento econômico da região.
Entretanto, os ingleses foram atraídos pela alta perspectiva de altos lucros e transplantaram mudas de seringueiras em suas colônias na Ásia, onde houve uma plantação mais organizada, superando a borracha brasileira em pouco tempo. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a região do pacífico foi duramente atacada pelos japoneses entre os anos de 1942 a 1945, prejudicando a produção de borracha inglesa, possibilitando assim um surto da borracha brasileira naquele contexto e uma melhora na venda das exportações brasileiras.
OS PRIMEIROS PASSOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL
Para entender o processo de industrialização na República Velha, deve-se entender que ele está intimamente ligado a realidade cafeeira do oeste Paulista. As crises de superprodução do café fez com que os produtores paulistas investissem parte dos seus lucros, garantidos pela política de valorização do café, em outras atividades, como a indústria e o comércio. Houve também no processo de industrialização brasileiro o investimento de grandes comerciantes e imigrantes que trouxeram algum capital ao se mudar para o Brasil, é o caso dos empresários Francisco Matarazzo e Rodolfo Crespi, ambos de origem italiana, que se tornariam com o passar dos anos importantes industriais na cidade de São Paulo.
Para se ter uma visão clara sobre esse processo inicial de industrialização, deve-se entender que as fábricas eram, em sua grande maioria, de pequeno e médio porte, voltadas principalmente para a produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, roupas, calçados, chapéus, massa alimentícias, sabão, bebidas, etc. Concentrando 31% das indústrias, o principal centro da industrialização brasileira era o estado de São Paulo, berço também do café do Oeste Paulista e o principal local de chegada de imigrantes de diversas nacionalidades europeias. Esse surgimento industrial propiciou o aparecimento de novos grupos na política brasileira, como a burguesia industrial, o operariado e a classe média, exercendo assim pressão política nos centros urbanos brasileiros.
Com a eclosão da 1ª Guerra Mundial, as economias europeias focaram seus esforços industriais para a realidade bélica, o que reduziu o número de produtos importados pelo Brasil, dando início a uma política de substituição de importações, ou seja, a uma redução das importações do país para o aumento da sua produção nacional, atendendo assim as demandas do mercado interno.
Porém, vale lembrara que o governo brasileiro não possuía nenhuma política oficial de estado para a industrialização do Brasil, e por isso o país ainda não conseguia realizar uma industrialização plena e com autonomia, por ser dependente de diversos insumos como máquinas e equipamentos importados.
O SURGIMENTO DO OPERARIADO BRASILEIRO NA REPÚBLICA VELHA
Paralelamente ao surgimento da indústria no Brasil, o proletariado se organizou na realidade brasileira, devido a falta de leis trabalhistas que dessem amparo aos trabalhadores frente as condições de trabalho. Abandonados a própria sorte pelos poderes públicos, os operários reagiram às duras condições em que viviam já nas últimas décadas do século XIX, o que fez surgir as primeiras associações de ajuda mútua. Reunindo trabalhadores do mesmo ofício, tinham como objetivo obter recursos para amparar os associados em caso de doença, desemprego ou morte.
Mais tarde, surgiram formas de organização mais voltadas para a luta por melhores condições de vida e de trabalho, como as ligas operárias e os sindicatos. A vinda de imigrantes politizados trouxeram para o Brasil as principais correntes do movimento operário europeu: socialismo, anarquismo e anarcossindicalismo. Para responder a esses movimentos, o governo brasileiro criou a Lei Adolfo Gordo, em 1907, que previa a expulsão do país para estrangeiros considerados indesejáveis para “a manutenção da ordem”. A cada movimento grevista, diversos imigrantes eram expulsos do Brasil acusados de perturbarem a ordem na realidade brasileira.
Para a República Velha, o proletariado era um problema social que deveria ser tratado de maneira marginalizada e com o uso das forças policiais. Em resposta a esse tratamento, o operariado organizou um grande movimento para se manifestar contra o governo brasileiro. Em julho de 1917, quando foi organizada em São Paulo a primeira greve geral da história do Brasil, provocada pelo descontentamento dos operários com as condições de trabalho às quais estavam submetidos.
As manifestações dos operários, em passeatas pelas ruas, provocaram muitos con itos com a polícia. Em um deles, no dia 9 de julho, o sapateiro anarquista José Martinez, morreu baleado pela polícia. Isso fez o movimento se ampliar, paralisando fábricas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Estimase que entre 50 mil e 70 mil trabalhadores tenham participado dessa greve em São Paulo, coordenada pelo Comitê de Defesa Proletária – cujos líderes eram Edgard Leuenroth, Florentino de Carvalho, Antônio Duarte, Francisco Cianci, Rodolfo Felipe e Teodoro Monicelli, entre outros. Os grevistas exigiam aumentos salariais, jornada de trabalho de oito horas, direito de associação e libertação dos grevistas presos, entre outras reivindicações. O governo e os industriais resolveram negociar com os grevistas, devido à extensão do movimento operário, prometendo realizar diversas mudanças nas condições de trabalho, caso os trabalhadores retornassem aos seus postos. Com o fim do movimento grevista e o operariado retornando aos postos de trabalho, as promessas de industriais e governistas não foram cumpridas.

Na foto, comício na Praça da Sé, em São Paulo, durante a mobilização dos trabalhadores para realizarem a greve geral de 1917.
Reprodução/Jornal A Plebe
Com o insucesso da luta operária em 1917, no ano de 1922, ocorreu o nascimento do Partido Comunista do Brasil, montando uma estrutura política e partidária com o objetivo de substituir o governo capitalista, por um governo operário pela via da revolução. Logo após a sua fundação, o partido foi colocado na ilegalidade por autoridades judiciárias, mas continuou a existir clandestinamente. Diversas greves irromperam na República, sob a influência dessas ideologias, concentrando as principais ações sindicais e imensa agitação nos meios operários e por greves generalizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador. A visão das oligarquias políticas sobre o proletariado era bem clara, pois a visão destes olhavam os trabalhadores como baderneiros. Exemplo disso deu o último presidente da Primeira República, Washington Luís, quando disse que a questão social e trabalhista no Brasil era “caso de polícia”.